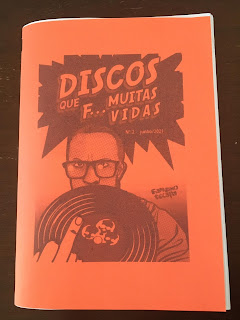Este ensaio foi publicado originalmente na página sete da edição 7801 do Jornal da Cidade (de Poços de Caldas/MG) em 23 de julho de 2022. Revisei o texto no dia 26 de julho, um dia após a publicação aqui neste blog, para corrigir um erro de digitação e eliminar uma palavra repetida.
Na segunda-feira desta semana,
dia 18, Hunter S. Thompson teria completado 85 anos se não tivesse se matado em
2005. Gosto dessas efemérides, embora, geralmente, passem batido. Podem me pôr
em movimento; neste caso, serviu para lembrar-me que havia abandonado a leitura
de Medo e Delírio em Las Vegas no começo. Tentei lê-lo antes de assistir ao
filme, lançado em 1998, mas não houve tempo hábil e acabei assistindo-o antes. Desanimei,
deixei para lá e, com atraso de décadas, finalmente recomecei do zero e concluí
a leitura, pois há uma edição recente da L± agora já é considerado um
clássico moderno pela editora. Na verdade, já era nos anos 1990, pois é uma
obra lançada em 1971, publicada originalmente em capítulos pela revista Rolling
Stone. A reputação de Thompson precedia sua obra. Criador do jornalismo gonzo,
li várias reportagens e artigos sobre ele antes de ler sequer uma linha do que escreveu. O “gonzo journalism” é uma variante do jornalismo literário (que
não cobre necessariamente literatura, mas é sim uma forma aprofundada de se
fazer jornalismo) com uma metodologia mais simples: ainda que faça descrições
pormenorizadas de ambientes e analise as atitudes das pessoas que são alvos de
suas reportagens, em vez de simplesmente reproduzir suas declarações, Thompson
fazia isso completamente chapado de drogas psicodélicas. Era consenso nas
matérias a respeito dele que não se sabia como ele ainda estava vivo. Quando
finalmente li um de seus textos, na revista Trip, foi o famoso artigo sobre o
Kentucky Derby, tido como a peça inicial do jornalismo gonzo. Ao contar como foi
a famosa corrida de cavalos, Thompson não estava nem um pouco interessado no
aspecto esportivo, mas sim em narrar o que ela realmente é: uma exibição de
poder. Logo no início, ele diz que os verdadeiros animais chegaram ao recinto,
ou seja, os políticos locais. Ainda se tratava de jornalismo. Medo e Delírio em
Las Vegas está mais para literatura mesmo. Tudo bem, Thompson conta o que ele e
seu advogado aprontaram em Las Vegas. Acontece que ele é um narrador não
confiável. Não é que ele seja intelectualmente desonesto; a questão é que o
livro é, de certa forma, um equivalente (sur)realista de Um Estranho no Ninho,
do escritor beat Ken Kesey, cuja militância pró-drogas, aliás, é citada
constantemente por Thompson. Sãos dois livros geniais e o paralelo é inevitável
para mim: enquanto Kesey escreveu uma obra ficcional com um narrador
fascinantemente não confiável, o indígena Chefe Vassoura, que está trancafiado num
hospício e que não consegue diferenciar suas alucinações da realidade, Thompson
descreveu o que realmente aconteceu sem também saber o que é alucinação ou é
real. A corrida off road e o encontro de policiais e promotores sobre a
“cultura das drogas” que foi cobrir em Las Vegas foram apenas desculpas para
ele e seu infiel escudeiro, o advogado samoano cujo nome jamais é mencionado,
drogarem-se em níveis inumanos com todos os entorpecentes conhecidos à época. A
prosa alucinada é fluída, cristalina; os acontecimentos, obscuros. Há uma
passagem que seu advogado foge do hotel com malas novas, levado de carro por
Thompson, e nenhum funcionário percebe. Não é crível, mas ele não está
preocupado com os fatos: o livro é um longo relato de como não consegue fazer a
cobertura da corrida por estar muito drogado ou desinteressado e de como não
quer cobrir a convenção porque odeia autoridades. Talvez por isso mesmo, é o
trecho mais jornalístico, no sentido convencional, do livro: enquanto ao longo
de toda a trama nomes são omitidos, o médico e o promotor que falam na abertura
da convenção são citados nominalmente e têm seus discursos implacavelmente
ridicularizados – não havia ainda o conceito, mas Thompson tinha lugar de fala
e era realmente o especialista em drogas. Conferi numa rápida busca na
internet: o médico e seu livro caricato sobre maconha são reais. E esse nem é o
trecho mais hilariante, há vários que me fizeram dar gargalhadas. Conforme a
história progride, no entanto, a trama fica cada vez mais sombria e desconexa.
Afinal, os anos do flower power já haviam passado e Thompson ressente-se disso.
Sua geração perdera para o conservadorismo de Nixon e Raoul Duke (seu
pseudônimo) não se poupa: na verdade, ele e seu advogado são junkies ameaçadores
e violentos. A misoginia de ambos não fica nada a dever para a de Charles
Bukowski e a de Jack Kerouac, outros dois ícones literários do período; talvez
seja até pior. Reflexo de uma utopia que degenerou, Thompson registra com
nostalgia os ideais libertários da geração hippie dele e de Kesey, Allen
Ginsberg e Timothy Leary, mas, mais lúcido do que seu histórico sugere, aponta
claramente o que “uma jornada selvagem ao coração do Sonho Americano” (o
subtítulo do livro) lhe revelou: a obsessão por dinheiro fácil nos EUA solapou
os sonhos utópicos de seus pares e a necessidade de “iluminação” de então não
era diferente das velhas religiões, levando ao surgimento de “gurus”
oportunistas e, embora ele não mencione nesta passagem, ao culto homicida de
Charles Manson que ele frequentemente relembra. O sonho acabou, mas redundou
num livro acachapante.
Daniel Souza Luz é escritor,
jornalista, revisor e professor
 |
| Hunter S. Thompson em Las Vegas, 1971. Foto de domínio público. |